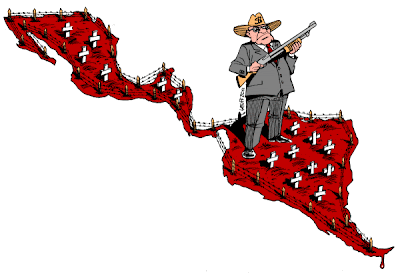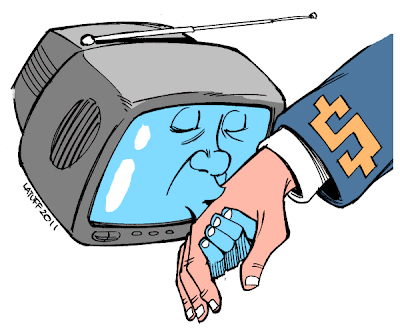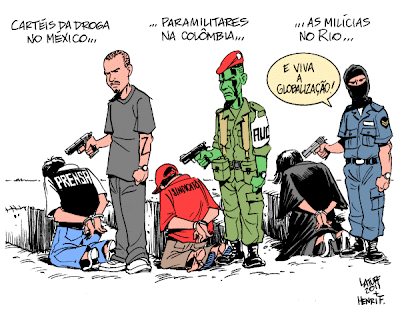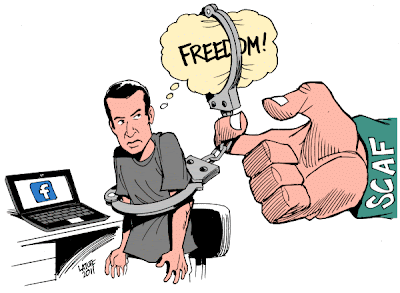Balanço crítico acerca da Ação Global dos Povos no Brasil (4)
Esse “fazer muito e refletir pouco” teria em breve sérias consequências. Para priorizar a unidade na prática, o debate teórico e ideológico foi minimizado, para não dizer praticamente suprimido. Por Felipe Corrêa
Teoria, ideologia e prática
Os ativistas do novo movimento demonstravam-se cansados com grande parte da esquerda que “falava muito e fazia pouco”. Essa era uma característica marcante da esquerda clássica: análises profundas (algumas vezes não muito!), críticas contumazes, longos textos, fórmulas para a revolução, ataques e mais ataques de grupos contra outros, de ideologias contra outras. Com frequência, uma falta absoluta de prática, imaginando, talvez, que a teoria pudesse substituí-la; a prática, nos poucos momentos em que acontecia, era acompanhada, muitas vezes, de um acanhamento de dar vergonha.
Havia uma “urgência das ruas”, para parafrasear o título de um livro que teve relevância para o movimento, publicado ainda em 2002. A prática deveria superar a teoria pura e simples cujos autores, para muitos críticos do novo movimento, resignavam-se às “torres de marfim” e desligavam-se da realidade. Tínhamos de fazer alguma coisa. Passava da hora de falar, eram tempos de fazer. O raciocínio parecia fazer sentido.

Conforme os dias de ação global e outros protestos de rua foram sendo colocados em prática, foi inevitável a sedução das ruas. Era realmente emocionante um movimento novo conseguir colocar centenas, algumas vezes milhares de pessoas nas ruas. A empolgação motivava muito e fazia com que houvesse uma busca permanente por essa incrível experiência; muitos daquela geração nunca haviam saído às ruas, e a experiência era realmente única. A sensação de que não estávamos sozinhos, que fazíamos parte de um movimento que era global, também motivava significativamente. Mesmo nos momentos de confronto com a polícia, da violência repressiva contra companheiros, das prisões, tudo aquilo terminava por dar mais unidade ao movimento; aumentava a sensação de pertencimento, de indignação contra as injustiças. Para muitos, os atos de rua eram aventuras concretas, protagonizadas por “gente comum” e que contribuíam com altas doses de adrenalina.
No entanto, esse “fazer muito e refletir pouco” teria em breve sérias consequências. Para priorizar a unidade na prática, o debate teórico e ideológico foi minimizado, para não dizer praticamente suprimido. As críticas pouco aprofundadas à velha esquerda e um pequeno conjunto de princípios de ação bastavam. Também “sem querer”, o “praticismo” que se desenvolvia estimulava um vazio teórico e ideológico, evidenciado na falta de debates mais aprofundados e transformado, algumas vezes, em um “praticismo antiteoria”.
Se por um lado o neoliberalismo proclamava o fim das ideologias em nome do capitalismo de mercado, por outro, a nova esquerda impulsionada pela AGP buscava uma unidade supérflua sustentando, ainda que indiretamente, um abandono das discussões teóricas e ideológicas. Parecia haver um certo receio de entrar em terrenos que poderiam gerar discordâncias e, quem sabe, comprometer o movimento. Talvez não fosse o momento de evidenciar possíveis diferenças e correr o risco de cisões.
As formações que promovemos, pelo menos em São Paulo, foram, na imensa maioria, práticas (treinamento de ação direta etc.). Em termos de teoria, recordo-me somente de uma formação consistente sobre a ALCA, que realizamos na ALJG, que foi sintetizada numa edição do jornal Ação Direta e em diversos textos publicados na internet no site “Alcaralho.org” (?!). A falta de formação política e a indefinição ideológica, que terminaram se tornando quase princípios, davam sustentação à repetição de slogans, que, em muitos casos, não possuíam conteúdo.
Democracia: individualismo, “democratismo” e a cultura do “pode tudo”
É notório que a esquerda clássica foi caracterizada por seu espírito autoritário e antidemocrático — considerando aqui a democracia como participação ampla nos processos decisórios. Seja por uma visão mais revolucionária, que dava exclusividade ao partido nesses processos, alijando todo o resto da população, ou por uma visão mais reformista, que sustentava serem os representantes eleitos aqueles que deveriam fazer a política no lugar do povo.
A AGP buscava impulsionar uma mudança em relação a esses aspectos. Para a rede e todo seu conjunto de ativistas, era imprescindível uma democratização ampla, tanto no que dizia respeito aos processos de mobilização, quanto numa eventual proposta de sociedade que se desejava construir. Assumia-se a máxima de que teríamos de começar a construir naquele momento o amanhã desejado, e por isso tornava-se imprescindível um processo de luta que fosse completamente democrático. Foi nesse sentido que foram incorporadas as propostas de democracia direta, autogestão etc. Todos os envolvidos deveriam participar dos processos decisórios, os quais teriam de se dar em assembléias horizontais, com todos participando. Sem uma vanguarda partidária consciente que determinaria os rumos do movimento e sem confiar a uma classe política as tomadas de decisão daquilo que nos dizia respeito — o próprio princípio da ação direta.

Como sempre, sem muita reflexão, essa idéia trazia problemas. Se era absolutamente correta a idéia de democratização dos processos decisórios, vinham “no pacote” alguns elementos que, longe de contribuir com essa democratização, a complicavam. O primeiro deles era a idéia de tomada de decisão por consenso, algo que se estabelecera com os novos movimentos sociais fora do Brasil e que se instituía como uma virtude do movimento no país, a qual contrapunha os processos de votação, que eram todos equiparados à democracia representativa. Acreditava-se que com as decisões por consenso todo o conjunto do movimento seria contemplado. No entanto, o consenso terminava por valorizar, desproporcionalmente, as posições individuais em detrimento do coletivo, além de deliberar sempre em favor de um mínimo denominador comum. Todos tinham de estar de acordo com a proposta, ou ao menos abster-se de opinar; nas questões em que havia acordo, geralmente não havia problemas. Entretanto, quando surgiam as divergências, relativamente comuns, como em qualquer processo decisório, a opção única pelo consenso trazia problemas. Por exemplo: numa assembléia de 20 pessoas, 19 tinham uma posição e 1 pessoa tinha outra; isso exigia um meio-termo que dava à pessoa dissidente um peso desproporcional na decisão, a qual terminava por contemplá-la em detrimento da maioria. Se havia um traço individualista no discurso da “opressão da minoria pela maioria” — que aparecia vez por outra — em casos como esse, era a minoria que se impunha, de maneira desproporcional, à maioria. Para impedir a “tirania da maioria”, optou-se frequentemente por processos que caracterizavam a “tirania da minoria”, tão criticada em outros âmbitos.
Além disso, o consenso dava espaço demasiado àqueles com maior capacidade de oratória e com mais condições de formular seus próprios argumentos. Além de falarem mais, essas pessoais terminavam conseguindo ser muito mais contempladas no processo decisório do que aquelas que falavam pouco ou que tinham menos capacidade oratória e argumentativa. Como o critério da decisão era qualitativo e não quantitativo, as posições daqueles que falavam mais e melhor valiam muito mais do que as dos outros. Essa era uma das portas que permitia a entrada e o estabelecimento da conhecida “tirania das organizações sem estrutura”, para utilizar o título brasileiro do texto de Jo Freeman.
E não era só isso. As tentativas de acordo terminavam constantemente optando por soluções que contemplavam a todos, mas que, para isso, tinham de ser reduzidas ao mínimo denominador comum. Se metade da assembléia tinha uma posição e a outra metade tinha outra, e se ambas as posições concordavam em 50%, optava-se por reduzir a decisão do coletivo a esses 50% de acordo e as divergências, que poderiam ter elementos importantes para o avanço, eram descartadas. Isso, creio, teve impacto nas decisões e foi um dos fatores responsáveis pelo impedimento do avanço em diversas questões.
Outro aspecto que vinha junto com a idéia de democratização do movimento era um mito de que todos deveriam participar de todas as decisões, por mínimas que fossem, o que chamei em 2005 de “democratismo”. Na realidade, como definido no próprio conceito de autogestão, a democratização nos processos decisórios exige ampla participação dos envolvidos e daqueles cujas decisões terão impacto em alguma medida.

Nesse processo, a delegação foi um instrumento historicamente aceito como maneira de articular instâncias autogeridas e democráticas mais amplas. Ainda assim, com o novo movimento, desenvolveu-se, não sei exatamente como, uma idéia de que democracia direta, autogestão, etc. significava que todos deveriam participar e decidir sobre tudo. Utilizar um processo democrático significava, muitas vezes, ficar por longos períodos discutindo questões completamente marginais, sem qualquer importância: a marca da cerveja que seria comprada para uma festa, a cor de uma parede de um espaço coletivo que seria pintado, a vírgula do texto do panfleto etc. E, obviamente, as discussões prioritárias e relevantes eram prejudicadas. A delegação autogestionária/federalista era muitas vezes comparada à delegação da democracia representativa — entendia-se que delegar, ainda que pela base, era deixar a um outro a tarefa de fazer por você. Com esse envolvimento de todos em todos os processos decisórios, não era incomum pessoas não envolvidas com o trabalho quererem deliberar sobre o trabalho realizado por outras e também as pessoas novas que nem bem chegavam e já queriam deliberar sobre questões com significativo acúmulo por parte do coletivo [1].
Com isso, frequentemente os processos decisórios, não raro, estendiam-se ao limite, e perdiam sua função de meios tornando-se fins a serem atingidos — afinal, decidimos algo para levar as decisões a cabo e desenvolver um projeto determinado. Os processos, ainda que não chegassem a lugar algum, proporcionavam um ambiente “democrático” que servia como um fim em si mesmo [2]. A democracia e a autogestão constituíam um ambiente propício para o deleite pessoal de alguns.
O argumento da democratização dos processos decisórios também vinha acompanhado do já mencionado espírito do “politicamente correto”, um certo “bom-mocismo” permissivo que criava uma cultura do “pode tudo”. Entendia-se com frequência que ser democrático era aceitar quaisquer posições e quaisquer atitudes por parte de outras pessoas [3]. Essa cultura permissiva, na realidade, invertia a noção de autoritarismo. A liberdade individual constantemente se sobrepunha às posições coletivas e, quando havia sinais por parte do coletivo de querer retomar as deliberações e os processos coletivos, acusavam-no de estar sendo autoritário. Os casos são inúmeros, alguns emblemáticos, realmente no limite de posições individuais absolutamente autoritárias, que eram toleradas pelo coletivo com o receio de que uma repreensão pudesse incorrer em autoritarismo [4]. Ainda assim, havia casos mais rotineiros, não tão extremos, mas que também evidenciavam o desrespeito das posições coletivas em favor das “licenças” individuais [5]. Invertia-se completamente a noção de autoritarismo, e a acusação de autoritário, além causar um medo quase religioso nos ativistas politicamente corretos, servia como contra-ataque daqueles que priorizavam o individual em detrimento do coletivo.
As manifestações de rua também terminaram sendo palco para “rebeldias individuais”, que, imbuídas de altas doses de espontaneísmo, contrariavam as deliberações coletivas e colocavam todo o coletivo do protesto em risco em nome de idiossincrasias individualistas completamente autoritárias. Ainda que tenhamos criado mecanismos para minimizar esse tipo de postura [6], o fato é que muitos ainda gozavam do anonimato que a massa das ruas criava para demonstrarem-se “corajosos” e “combativos”, colocando em risco todo o processo de construção coletiva [7].
Organização, integração, internacionalização e estratégia
Contrapondo-se ao discurso organizativo da velha esquerda, que vinha acompanhado de métodos que implicavam hierarquia e dominação, a nova esquerda propunha formas mais fluidas de organização. Parecia haver uma premissa oculta de que o nível de organização era diretamente proporcional à hierarquia e à dominação. Ao mesmo tempo também parecia óbvio que era necessário integrar todas as lutas e internacionalizá-las, sustentando, como dizia o slogan, que se “o capital é internacional, globalizemos a resistência”.
A noção de organização em rede surge, em grande medida, para solucionar esse problema organizativo. A própria AGP, em sua constituição, toma posições no sentido de construir um “espaço de articulação” que não se sabe exatamente quem compõe, quais são as funções de cada participante, de cada coletivo, quais são os processos decisórios em níveis mais globais, todos podem fazer ações e dizer que estão inspirados por seus princípios, não há controle e nem avaliação mais aprofundada do que é feito etc. Não se sabe exatamente quem é membro e quem não é. Uma típica “organização sem estrutura”, que parecia, no fundo, incorporar a máxima de que organização é igual a autoritarismo. Características que, para a militância da AGP, marcam a tal “atuação em rede”.
Na realidade, equiparar organização a autoritarismo é um mito que cai no extremo oposto. Nas organizações que possuem regras e processos claros, filiação e funções definidas, discussões e avaliações coletivas e responsáveis etc., cada um sabe o que deve (ou mesmo pode) fazer, e cada um sabe o que pode esperar dos outros, do coletivo como um todo. Ao optar por esse modelo organizativo nebuloso, terminou-se por dar mais espaço a quem estava mais organizado, mais articulado, quem tinha os contatos, quem dominava os idiomas etc. O mesmo processo criticado na “tirania das organizações sem estrutura”.

A necessidade de se integrar as lutas também trouxe consequências. A integração de lutas, representada pela idéia de que estávamos criando um “movimento dos movimentos”, se por um lado trazia o respeito e a tentativa de articular as várias lutas, por outro impedia a crítica e a reflexão mais aprofundada, como de praxe. Companheiros e companheiras que atuavam conosco e também em movimentos diversos (negro, LGBT, feminista etc.) terminaram sendo arrastados por esses movimentos e suas propostas de integração no capitalismo, um processo que teve pouca crítica de nossa parte. Sem propostas bem definidas, era fácil ser levado a reboque das propostas de movimentos mais estruturados. A visível institucionalização desses movimentos, que se evidenciaria mais gritantemente no período subsequente, não mereceu a devida crítica, e a integração das lutas deixava um “respeito” que se limitava a um “reboquismo” da nossa militância em relação aos movimentos, ou a simples integração dos ativistas “antiglobalização” nesses movimentos de maneira, quase sempre, acrítica.
O princípio anticapitalista da AGP, que deveria nortear a participação de todos os “indivíduos e grupos” por ela inspirados, terminou como um adereço sem função para muitos daqueles que participavam de outros movimentos. Afinal, não se opunha abertamente ao critério que já era utilizado por esses movimentos, de afirmar suas bandeiras tendo como base a inserção nas estruturas vigentes do poder econômico e político [8]. Um problema que membros da AGP que tiveram contato com o processo de conformação da Parada do Orgulho Gay viram de perto [9]. A noção da necessidade de integração das lutas estava correta, mas o princípio anticapitalista, que deveria nortear a criação e o desenvolvimento de lutas, não poderia jamais ter sido deixado de lado.
A necessidade de internacionalização das lutas também teve consequências. Ainda que se defendesse “pensar global e agir local”, o fato é que havia uma importação de pautas, no melhor estilo neocolonialista, que, se por um lado unia os ativistas internacionalmente, por outro complicava sua atuação localmente e a criação de estratégias adequadas.
Questões internacionais amplas (neoliberalismo, ALCA, OMC etc.) dificultavam a “tradução” dessas questões no que dizia respeito ao dia-a-dia da população. Era, evidentemente, um problema estratégico — talvez um dos mais sérios de todo o movimento. Pensar estrategicamente exigiria formular, discutir e tomar posições em relação a questões que foram muito pouco discutidas. As perguntas mais básicas — Movimento para quê? Movimento para quem? — se foram algumas vezes tratadas, nunca superaram o nível da especulação rasa e deram espaço a proposições que se abstinham de um caminhar estratégico. Se essas perguntas tivessem sido honesta, profunda e criticamente discutidas, certamente haveria um diagnóstico de que as bandeiras do movimento — por mais que girassem geralmente em torno de questões ligadas ao neoliberalismo — mudavam com muita frequência, o que fazia com que se acentuasse uma outra característica do nosso movimento: o “faz tudo mas não faz nada”. Pessoas envolvidas com inúmeras causas, inúmeros projetos, mas que terminam por não fazer nada direito.
Ao fazer um balanço das bandeiras que levantamos em todo o período da AGP se constatará que as questões foram muito diversificadas, ao mesmo tempo em que nossa força não era suficiente sequer para organizar algo sério em relação a uma delas. Mobilizamos em torno das mais diferentes bandeiras [10], todas as quais, evidentemente, mereciam lutas. O problema, entretanto, era a falta de uma visão estratégica, já que tínhamos uma determinada força, “bater” cada hora em um alvo fazia com que os golpes terminassem por não surtir muito efeito. Cada vez o tema era um e não conseguíamos — sequer tentávamos — traduzir bandeiras globais de luta em um conjunto de propostas compreensíveis para a população. Fica também uma impressão do “modus Greenpeace de operar”, que sempre prioriza o distante em relação ao próximo, já que é mais simples, mais seguro e mais “marketeiro”, por exemplo, defender pandas de localidades longínquas do que lutar com os desempregados de sua própria localidade. Se as perguntas estratégicas tivessem sido suficientemente discutidas e, de fato, respondidas, evidenciaria-se que todos esses problemas estratégicos nos quais incorriam o movimento reduziam significativamente o próprio conjunto dos participantes dos movimentos. Problema de crescimento das bases reforçado pelo já mencionado perfil que hegemonizava as mobilizações.
Além disso, a necessidade de estarmos integrados a tudo o que acontecia internacionalmente acelerava o calendário e fazia com que, a toda hora, fosse mais o momento de fazer do que de pensar, reforçando o “fazer pelo fazer” mencionado anteriormente. Uma priorização do tático que sempre se dava em detrimento do estratégico.
Por que uma estratégia seria imprescindível? Tínhamos de avaliar a conjuntura, verificar quais seriam nossos objetivos, constatar nossa capacidade de mobilização, verificar quais seriam as necessidades e prioridades para aumentar a nossa força, como iríamos traduzir as bandeiras em questões concretas que poderiam ser entendidas pelas pessoas, quais seriam as ações que contribuiriam com um avanço estratégico mais amplo etc. Questões básicas que foram poucas vezes discutidas a sério. Não há como negar que essa falta de projeto estratégico dava margem a um espontaneísmo gritante, que fazia nosso “barco” andar em círculos, já que não sabíamos direito para onde ir.
Observando hoje, vejo um movimento que andava em círculos, tentando fazer muita coisa, mas fazendo pouca coisa direito. Andava um pouco numa direção, um pouco noutra, sem conseguir manter um norte e sem conseguir acumular e trilhar um caminho sólido.
Tecnologia e liberdade
Finalmente, pode-se colocar a necessidade e a vontade que tivemos de integrar as novas tecnologias e ferramentas em nosso processo. Não sei se é correto falar em “integrar”, visto que o movimento nasce delas, ou já surge com elas, desde seu início. Ferramentas de publicação aberta, como o CMI, acompanham o movimento desde seu surgimento, assim como servidores de emails e listas como o Riseup, ambos promotores dos softwares livres, de uma cultura contrária aos direitos autorais e de conteúdo radical.

Quando o CMI surgiu no Brasil, por exemplo, havia uma dificuldade grande para se publicar na internet, criar sites, blogs etc., e por isso a proposta de publicação aberta caracterizou-se como uma inovação sem precedentes. Como em outros países, o CMI foi central tanto para a articulação dos protestos da AGP quanto para a difusão de sua cobertura. Assim também foram os emails seguros e listas do Riseup.
No entanto, não deixou de surgir em meio ao movimento uma visão que politizava a tecnologia em si mesma, acreditando que a publicação livre, as licenças livres, os servidores independentes, carregavam certo potencial libertador. O que a história mostra — contradizendo aqueles que, contrários à tecnologia, afirmam que uma tecnologia não pode jamais modificar as raízes que lhe foram engendradas no momento de sua criação — é que as ferramentas da web, que hoje se chamam de 2.0, foram, em grande medida, uma criação desse movimento da nova esquerda global. Tecnologias descentralizadas, que propiciavam a participação, a construção coletiva, dentro do espírito que caracterizava o próprio movimento.
Entretanto, com o passar do tempo, entre a criação dessas ferramentas e os dias de hoje, os capitalistas perceberam que era possível utilizar a descentralização, a participação e a construção coletiva para a acumulação de capital e geração de lucro. Ferramentas criadas com o intuito de combater o capitalismo foram apropriadas pelos capitalistas, em nome de uma construção mais descentralizada, participativa e coletiva do capitalismo; idéia que permeou toda a criação e o desenvolvimento da Internet 2.0 [11]. Um processo que não deixou de ser auxiliado por parte dos ativistas antiglobalização que, integrados ao capitalismo, entregaram suas ferramentas e ajudaram em seu desenvolvimento e em sua integração ao mundo corporativo [12].
Não foram poucos os que, envolvidos com as tecnologias alternativas, ingressaram em processos governamentais ou capitalistas que se utilizavam dessas tecnologias. Empresas que utilizavam o Linux como maneira de conter custos com as licenças do Windows, governos que desenvolviam projetos de inclusão digital, empresas que douravam seus produtos com licenças diferenciadas como forma de inserir-se alternativamente no mercado, etc. E não falo dos empregos para a sobrevivência de parte dessa militância, claramente necessários, já que não podemos cair no raciocínio, típico dos setores médios alternativos, de que é possível para todos uma escolha do trabalho que se vai realizar, visando não contribuir com o capitalismo ou ter um impacto menor em seu desenvolvimento [13]. Falo da “compra” ideológica do discurso da libertação por meio da tecnologia, um fator responsável por aproximar do governo Lula grande parte desses ativistas, seduzidos pela política do Ministério da Cultura, que oferecia trabalho, financiamento e mesmo a promoção desse modelo de tecnologia alternativa. Qual era o projeto político do governo que impulsionava essa política do MinC? Certamente não era anticapitalista, e pode-se questionar, inclusive, se era, ainda, de esquerda.
Notas:
[1] Algo relativamente comum que ocorria era que, por falta de estruturas orgânicas mais definidas, as pessoas novas que chegavam podiam participar das decisões junto com o coletivo mais estruturado. Lembro-me de diversas vezes que chegavam pessoas novas, davam opiniões sobre todos os assuntos, suas posições eram incorporadas nas decisões e depois essas pessoas nunca mais apareciam. Terminavam, no fim das contas, deliberando para outros realizarem suas deliberações.
[2] Durante um FSM, o CMI aproveitou para marcar uma reunião global, já que estariam presentes muitos membros dos coletivos de todo o mundo. Por algum motivo que não me lembro bem — creio que por razão de uma manifestação que fizemos contra a burocratização do Fórum — eu e outro companheiro perdemos a reunião. Não deixamos de ficar chateados pela perda dessa oportunidade. No dia seguinte, ao encontrar um membro do Indymedia Global, perguntamos sobre o que havia sido tratado e decidido na reunião. Ele nos falou: “- A reunião foi longa, 18 horas seguidas…”. Nós, embasbacados, perguntamos: “- Nossa, mas o que foi deliberado?” E ele respondeu: “- Na verdade nada, mas foi muito bom vivenciar aquele processo democrático, todos falando, sem serem interrompidos, cada um colocando sua posição…”. Em um minuto eu já tinha me congratulado pela ausência.
[3] Lembro-me de uma reunião nacional do CMI em que se discutia o papel dos comentários no site. Eu e outros companheiros, com um projeto político naquele momento já mais definido, sustentávamos que o site tinha por trás uma proposta: uma crítica da sociedade capitalista, caminhos pelos quais se poderia promover transformações etc. E esse projeto, para nós, deveria nortear toda a política de publicações e de comentários do site. Havia um grupo, entretanto, significativo, que sustentava que retirar os comentários da extrema direita era censura, e que o CMI não podia utilizar-se disso. Sustentávamos que promover a discussão era importante, desde que não aceitássemos posições de inimigos, que infringissem os princípios do CMI. O outro grupo achava isso autoritário. A discussão estendeu-se pela noite com os companheiros argumentando sobre a importância do espaço democrático e que deveríamos discutir com os fascistas e convencê-los das nossas idéias…
[4] Exemplo crítico, é verdade, mas ilustra bem o que estou sustentando. Em uma edição do Carnaval Revolução, realizada em um sítio na grande Belo Horizonte, um gringo, daqueles que querem conciliar o punk com o hippie, não sei por que motivo defecou dentro do espaço do chuveiro reservado ao banho coletivo. O assunto gerou polêmica. Um setor mais exaltado, acreditando que o estrangeiro havia incorrido em uma atitude antiética e individualista, defendia dar uma surra nele e expulsá-lo do encontro — mas era o setor minoritário. O setor majoritário sustentava que ele tinha a liberdade de fazer isso e que bater nele ou expulsá-lo do evento seria um ato autoritário. No auge da polêmica, um bom-samaritano limpou a sujeira, “solucionando” o problema.
[5] Outro exemplo, menos escatológico, mas mais constante, foram os espaços autogestionários, em que as pessoas “deveriam” ter o “direito” de não cumprir suas responsabilidades, em nome de um antiautoritarismo às avessas. Havia uma rádio livre de Florianópolis que, em suas reuniões autogestionárias, fechava a grade de programação, distribuindo os horários às pessoas voluntárias que fariam os programas. Não era incomum alguns pegarem os horários mais disputados e não aparecerem no dia e horário combinados. Quando cobradas, as pessoas colocavam-se como vítimas do autoritarismo dos companheiros, reivindicando sua “liberdade” de faltar (sem avisar, é claro).
[6] A partir de um determinado momento, começamos a fazer o seguinte. No início da manifestação, alguém pegava um megafone e explicava todas as deliberações coletivas que haviam sido tiradas em assembléia com relação àquele ato. Se era ou não um ato pacífico, o trajeto que seria realizado etc. Finalmente, avisávamos que qualquer atitude que contradissesse essas deliberações coletivas seria entendida como obra de policiais infiltrados — encaminhados à comissão de segurança, que retiraria os manifestantes do protesto. Ainda que não resolvesse completamente o problema dos rebeldes individualistas, isso minimizava significativamente os “corajosos”, que adoram usufruir da “proteção” do coletivo para protagonizar rebeldias individuais/individualistas.
[7] Estávamos numa manifestação na Av. Paulista, não me lembro exatamente qual era o motivo da manifestação. Só me lembro que o processo para organizar o ato havia sido desgastante, e tínhamos modificado o trajeto, pensando em como conduzir a coisa e, como queríamos tentar aumentar a participação, decidimos que seria um protesto pacífico. Isso havia sido fechado na assembléia anterior à manifestação e avisado já no início. No meio do protesto, uma turma inspirada pelo “Black Bloc” avança rumo ao Mc Donald’s e começa a xingar as pessoas que estavam lá dentro. Alguns, mais exaltados, jogam, escondidos atrás da turba, objetos como garrafas e outros no vidro da lanchonete. A polícia tenciona. Por um lado, a comissão organizadora empurrava os manifestantes para que passassem reto pelo local, buscando evitar o confronto, quando, de repente, um “rebelde radical” joga, detrás da multidão, algo na polícia — parecia uma pedra, um vidro ou algo do gênero — e, naquele barril de pólvora, uma faísca era suficiente para mandar tudo pelos ares. A polícia avança para cima dos manifestantes, bate em vários, solta bombas de gás, de efeito moral etc. Pessoas de mais idade, ou mesmo alguns que levaram os filhos apavoram-se, e o protesto transforma-se em um caos.
[8] Por exemplo, o movimento negro, ao exaltar ricos e famosos, e as feministas, fazendo contas de quantas mulheres já eram diretoras ou presidentes de grandes empresas. Há que se ressaltar que ricos e poderosos sempre foram “respeitados” em nossa sociedade, independente de qualquer coisa. Condoleezza Rice, por exemplo, mulher e negra, não é respeitada por ser mulher nem por ser negra, mas por ser poderosa.
[9] Quando houve o episódio de repressão à um casal gay que se beijava no Shopping Frei Caneca, pessoas ligadas à AGP auxiliaram na organização do conhecido “beijaço” gay no local. Os donos das lojas entram em pânico, já que 80% de seus clientes eram gays. No dia do beijaço, receberam todos de portas abertas, com cartazes com homenagens e tudo. A partir de então, o Shopping Frei Caneca se tornaria, abertamente, o shopping gay da cidade. No entanto, os gays não estavam sendo respeitados por serem gays, mas por serem consumidores, por terem dinheiro. Os gays das periferias certamente não teriam o mesmo respeito. Ao mesmo tempo, ter gays nas posições centrais do poder não melhora a condição daqueles que são oprimidos. Não ser mais oprimido por um homem branco, mas por uma mulher negra e gay, muda a opressão? Melhora o mundo?
[10] Contra o FMI, o BM, a ALCA, o G8, a cultura do automóvel, as guerras, a repressão policial, a OMC, o Fórum Econômico Mundial, o BID, a opressão contra os homossexuais, o aparelhamento dos movimentos sociais pelo PT, a UNCTAD, a morte de Santillán e Kosteki (piqueteiros argentinos), entre outras.
[11] Esse fato coloca em xeque as posições primitivistas de que as máquinas da indústria, por exemplo, engendram em si mesmas o capitalismo. E sustentam o argumento de que, por trás das tecnologias, existem intenções, processos e instituições capazes de ditar seu fim. Nesse sentido, uma fábrica poderia, utilizando-se de sua própria tecnologia, servir para propósitos anticapitalistas, desde que as intenções, os processos e as instituições que determinam seu funcionamento assim o fossem. Uma fábrica autogerida poderia, assim, servir como meio de luta e também como paradigma de uma sociedade futura.
[12] Alguns membros do CMI Global integraram de maneira central o projeto de desenvolvimento do Twitter, por exemplo. O exemplo do CMI, de comentários abertos, foi seguido pela maioria dos portais da mídia corporativa.
[13] Visão bastante difundida e sustentada por argumentos como o de Michael Moore no documentário Corporation, quando afirma ser um paradoxo o fato de operários trabalharem em fábricas e contribuírem, assim, com o desenvolvimento do capitalismo. A maioria dos trabalhadores, naturalmente, não pode escolher onde trabalhar e, se trabalham numa fábrica, por exemplo, não é porque querem ajudar o capitalismo, mas porque estão sendo por ele explorados, sem outras alternativas disponíveis.
Fonte: http://passapalavra.info/
 “Caso o ministro Paulo Bernardo (Comunicações) fique insustentável, a presidente Dilma tem seu preferido: Franklin Martins”. (“Panorama Político”, O Globo, domingo, 28/8, pg. 2). Três linhas apenas, no pé da coluna. O suficiente, a mídia entenderá o recado.
“Caso o ministro Paulo Bernardo (Comunicações) fique insustentável, a presidente Dilma tem seu preferido: Franklin Martins”. (“Panorama Político”, O Globo, domingo, 28/8, pg. 2). Três linhas apenas, no pé da coluna. O suficiente, a mídia entenderá o recado.