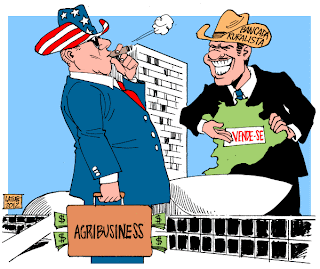Caso Latuff: A inversão ideológica; como fazer do ocupante uma vítima
Um temor emerge por parte daqueles que fazem críticas contra o governo israelense: ser alvo da acusação de antissemitismo. A manipulação do conceito de antissemitismo comporta muitas armadilhas intelectuais e morais. Criticar Israel não significa negar o direito ao Estado, o direito à crítica é vital para todas as sociedades democráticas e, as sociedades que protegem esse direito têm mais chances de sobreviver do que as que negam.
Um breve resgate histórico sobre a formação do Oriente Médio, nos permite constatar que a fundação do Estado de Israel esta intimamente relacionado à muitos conflitos regionais. Porém desde a internacionalização do conflito Israel – Palestina decorrente da emergência do problema dos refugiados palestinos em 1948, o assunto passou a ser amplamente discutido nos meios jornalísticos, artísticos e acadêmicos no mundo inteiro.
A partir de então, entre tantos adversários da política israelense, muitos antissemitas confessos também passaram a configurar nessa mesma lista. Motivo pelo qual existem hoje a assimilação de toda crítica à Israel e de sua política à uma nova versão do antissemitismo. Mesmo sentimento pelo qual acarretou na ira de muitos deputados do Knesset (parlamento israelense), no momento em que o líder Yasser Arafat, à convite oficial do governo norte-americano, visitou o museu do Holocausto em Washington, em 1998. Cabe indagar, no entanto, o que teria acontecido se ele recusasse o convite?
Analisar a atual amplitude do termo antissemitismo requer antes de mais nada, eliminar qualquer confusão entre judaísmo e política israelense, distinguir entre crítica política e antissionismo e, sobretudo diferenciar antissemitismo e antissionismo. Essa confusão conceitual, propositadamente utilizada, teve início, muito provavelmente antes da segunda Intifada, no momento em que Ariel Sharon, de maneira provocativa visitou a Esplanada das Mesquitas/Monte do Templo em Jerusalém sob um forte esquema de segurança, às vistas de cerca de centenas de palestinos que estavam naquele local, a presença do primeiro ministro acarretaram violentos confrontos e muitas mortes, naquela ocasião.
Desde então um grupo de intelectuais da comunidade judaica – sionista, tem se dedicado à explorar politicamente a possibilidade dos desvios antissemitas a fim de angariar apoio em direção à política pró- israelense.
Se os atos discriminatórios aos judeus são intoleráveis, não é indiferente constatar que atualmente esses casos estejam intimamente ligados aos conflitos no Oriente Médio. Por outro lado, a suspeita de que os verdadeiros antissemitas se apropriam da causa palestina, não é considerado praticamente ilegítima.
Diante de todos esses fatores, um grande temor emerge por parte daqueles que estão dispostos à fazer críticas contra o governo israelense, sob pena de serem alvo de difamação, por intermédio da acusação de cometerem atos antissemita. De acordo com essa ideologia então predominante, o sionismo passa a ser sinônimo de Israel, ou seja, deixa de ser um movimento político e se torna o próprio Estado.
Os estragos causados por essa deformação são enormes, atingem desde a questão do véu islâmico, vai de encontro ao demasiado apoio à visão dos neoconservadores norte-americanos, até à obsessão securitária. Ao mesmo tempo, esses porta-vozes da comunidade judaica-sionista banalizam o antissemitismo e difamam centenas de judeus que rejeitam publicamente todas essas manipulações. De fato, quando a acusação de antissemitismo é sistematicamente utilizada para defender Israel à qualquer preço, inviabiliza, da mesma forma para que a eficácia dessas acusações recaiam de fato, naqueles que depredam as sinagogas ao redor do mundo, em conformidade à bandeira neonazista.
O sentimento antissemita, para esses autores, podem ser encontrado em todos os lados, mas principalmente na esquerda politica, dentro das comunidades árabes e islâmicas e, entre os judeus de esquerda. Esse inconveniente, acarreta no atual processo de transformação de toda a comunidade árabe, em um grande alvo de perseguições, ocupado no passado pela figura do judeu, de acordo com as palavras de Edward Said, em sua obra Orientalismo – O Oriente como uma invenção do Ocidente.
O antigo enredo da conspiração, a qual revelava a figura do judeu como o promotor de um empreendimento mundial desapareceu. Em seu lugar, emerge a representação simétrica com relação aos árabes e muçulmanos, na imagem dos grandes detentores das riquezas petrolíferas e do terrorismo suicida internacional.
Essa mesma imagem também foi explorada pelo comediante brasileiro, Marcelo Adnet, em um dos programas Comédia MTV, a qual de maneira irresponsável apresentou em formato de humor o que seria uma seleção dos melhores vídeo clips no Mundo Árabe e Islâmico. Adnet personifica um apresentador afegão, em um cenário deserto, com cavernas e vestido com uma roupa típica dos talebans e explora demasiadamente muitos esteriótipos árabes e islâmicos.
Um dos esteriótipos mais marcantes é a questão do ódio e da intolerância irracional nata por parte de todos os muçulmanos ao ocidente, simbolizada na referência irônica do apresentador ao sequestro dos jornalistas europeus no Afeganistão e no obsessivo projeto de destruição da cultura ocidental e norte-americana no mundo. Sobre esse aspecto, o muçulmano, representado por Adnet é apresentado como um sujeito ignorante, preconceituoso e violento, em um dos vídeos clipes apresentados, a sua esposa (encenada por um ator) usa uma burca preta, semelhante às utilizadas pelas mulheres na Arábia Saudita.
A violência contra a mulher muçulmana é apresentada de forma espontânea e generalizada, sobretudo quando o marido dela (no vídeo clipe) a ameaça com violência, diante da possibilidade de adultério. No mesmo instante em que a música estava sendo cantada pelo humorista, outro ator da mesma emissora realiza uma coreografia ao fundo, com um figurino jihadista e muitos explosivos ao redor do seu corpo, numa imagem que remete ao incurável fanatismo islâmico.
Além da prática de islamofobia (termo que denota aversão ao islã), o mesmo programa, de maneira debochada, apresentou em um dos “vídeos clipes premiados”, um palestino na Cisjordânia ocupada, representado por um funkeiro armado com duas metralhadoras, cuja a música retrata a banalização da violência contra os seus inimigos. A distorção das imagens utilizadas pelo programa juvenil e pelo humorista retrata o palestino de modo a ressaltar uma série de esteriótipos que vão muito além dos preceitos islamofóbicos. O palestino, o “Mc Mata” canta o funk É nois que tá, sob um refrão “Cisjordânia é nóis que tá”.
Ainda diante das graves conseqüências do emprego à islamofobia, muito recentemente, o embaixador norte-americano na Líbia, J. Christopher Stevens e três colegas de trabalho foram mortos na cidade de Benghazi, em um ataque de manifestantes salafistas (em sua maioria) ao escritório do consulado americano na cidade. O trágico ataque teria sido motivado por uma grande revolta gerada pelas informações contidas no filme Innocence of Muslims, produzido pelo americano-israelense Sam Bacile, as quais retratam o profeta Mohammed de modo caricato.
O auge da revolta no entanto, ocorreu após uma entrevista do diretor do filme ao Wall Street Journal, a qual declarou publicamente “que o Islã é um câncer”. O que de fato culminou para que as revoltas se espalhassem para outros países de maioria muçulmana, como o Egito. No Cairo, enquanto cerca de milhares de manifestantes protestavam em frente à embaixada dos Estados Unidos, alguns representantes da Fraternidade Muçulmana muito oportunamente puderam convocar novos protestos pacíficos contra o filme para a sexta-feira seguinte (dia sagrado na religião muçulmana).
A repercussão negativa da produção cinematográfica, ecoou, da mesma forma, dentro do grupo Taliban (no Afeganistão). Na quarta-feira (dia 12 de setembro), líderes talibans pediram à comunidade afegã para que se preparem para uma “guerra” contra os americanos e apelaram para que insurgentes “se vinguem” nos soldados norte-americanos ainda presentes no país.
Por esse lado, e afim de evitar tanta violência decorrente de distorções conceituais, todas as questões relativas ao sionismo, antissionismo, antissemitismo e islamofobia, deveriam ser formuladas no espaço público, de modo eqüitativo, de preferência dentro das Universidades, de acordo com o comprometimento dessas instituições na promoção ao debate político e acadêmico. Porém, muito diferentemente do papel que deveriam exercer, as Universidades, cada vez mais, têm sido palco de uma campanha de censura de informações e de difamação, capazes de distorcer qualquer trabalho artístico e acadêmico pró-palestino sob a acusação de práticas de antissemitismo.
Um dos principais alvos de difamação no Brasil, o cartunista Carlos Latuff, em algumas ocasiões teve o seu nome registrado em citações jornalistas e acadêmicas como um exemplo de artista antissemita, desde que começou a posicionar-se politicamente por meio de suas criações sobre a questão palestina, ao transmitir em seus desenhos à realidade dos territórios ocupados, a discriminação, a política de expansão dos assentamentos, o muro e muitos outros casos de desrespeito aos direitos humanos. Toda a campanha de difamação pessoal, atingiu o seu auge, sobretudo no momento em que participou de um concurso de cartoons sobre o Holocausto em Teerã (muito condenado internacionalmente). Cabe ressaltar que o evento iraniano foi criado em resposta à divulgação de alguns cartoons dinamarqueses sobre a imagem do profeta Mohammed, líder religioso da religião muçulmana.
Nessa altura, ao classificar-se em segundo lugar com um trabalho que retratava um palestino chorando diante de um muro erguido pelo governo de Israel, toda a polêmica do desenho, girou em torno do detalhe da roupa do palestino: um uniforme de prisioneiros dos campos de concentração nazista. A inevitável comparação do nazismo à política israelense nos territórios ocupados palestinos, rotulou à partir daí, todos os trabalhos do cartunista como sendo de natureza tendenciosa, antissemita e não comprometida com a promoção da paz.
Por outro lado, são ainda poucos o que conseguem de fato diferenciar os trabalhos preconceituosos dos trabalhos sérios, comprometidos com questões políticas e sociais relevantes. Ao tratarmos sobre os nomes citados, Marcelo Adnet, Sam Bacile e Carlos Latuff respectivamente, é bem possível constatar o uso apelativo dos dois primeiros aos estereótipos de modo à prejudicar a imagem da comunidade árabe, da mulher muçulmana, do anseios do povo palestino e da religião. Muito diferente dos desenhos de Carlos Latuff que, muito embora retratem de maneira crítica alguns integrantes do governo de Israel e de seu Exército, nunca o fazem de forma pejorativa e estereotipada, como eram feitos no passado, pelos publicitários do Reich alemão. Foi durante essa época que os judeus, de uma maneira geral, costumavam serem retratados na imagem do banqueiro explorador e mercenário, na figura do comunista perigoso e violento e suas feições geralmente ressaltavam o nariz e uma cartola mais extravagante do que o normal.
Aqui no Brasil, mesmo diante da gravidade das imagens retratadas nos programas humorísticos apresentados por Marcelo Adnet transmitido pelo canal MTV, o seu nome nunca esteve envolvido em quaisquer acusações de prática de discriminação de teor islamofóbico, qualificado como uma forma de racismo, de acordo com as palavras do secretario das Nações Unidos, Ban Ki-Moon, durante discurso proferido em uma Conferência Internacional contra o Racismo, em Genebra (Suiça). Muito diferente, dos prestigiados trabalhos do Latuff, que frequentemente são alvos de acusações por práticas de antissemitismo, sem qualquer tipo de critério.
A manipulação do conceito de antissemitismo comporta, nesse sentido, muitas armadilhas intelectuais e morais. Criticar Israel não significa negar o direito ao Estado, o direito à crítica é vital para todas as sociedades democráticas e, as sociedades que protegem esse direito têm mais chances de sobreviver do que as que negam.
(*) Integrante do Grupo de Trabalho sobre o Oriente Médio e o Mundo Muçulmano do Laboratório de Estudos sobre a Ásia da Universidade de São Paulo (LEA-USP).
A partir de então, entre tantos adversários da política israelense, muitos antissemitas confessos também passaram a configurar nessa mesma lista. Motivo pelo qual existem hoje a assimilação de toda crítica à Israel e de sua política à uma nova versão do antissemitismo. Mesmo sentimento pelo qual acarretou na ira de muitos deputados do Knesset (parlamento israelense), no momento em que o líder Yasser Arafat, à convite oficial do governo norte-americano, visitou o museu do Holocausto em Washington, em 1998. Cabe indagar, no entanto, o que teria acontecido se ele recusasse o convite?
Analisar a atual amplitude do termo antissemitismo requer antes de mais nada, eliminar qualquer confusão entre judaísmo e política israelense, distinguir entre crítica política e antissionismo e, sobretudo diferenciar antissemitismo e antissionismo. Essa confusão conceitual, propositadamente utilizada, teve início, muito provavelmente antes da segunda Intifada, no momento em que Ariel Sharon, de maneira provocativa visitou a Esplanada das Mesquitas/Monte do Templo em Jerusalém sob um forte esquema de segurança, às vistas de cerca de centenas de palestinos que estavam naquele local, a presença do primeiro ministro acarretaram violentos confrontos e muitas mortes, naquela ocasião.
Desde então um grupo de intelectuais da comunidade judaica – sionista, tem se dedicado à explorar politicamente a possibilidade dos desvios antissemitas a fim de angariar apoio em direção à política pró- israelense.
Se os atos discriminatórios aos judeus são intoleráveis, não é indiferente constatar que atualmente esses casos estejam intimamente ligados aos conflitos no Oriente Médio. Por outro lado, a suspeita de que os verdadeiros antissemitas se apropriam da causa palestina, não é considerado praticamente ilegítima.
Diante de todos esses fatores, um grande temor emerge por parte daqueles que estão dispostos à fazer críticas contra o governo israelense, sob pena de serem alvo de difamação, por intermédio da acusação de cometerem atos antissemita. De acordo com essa ideologia então predominante, o sionismo passa a ser sinônimo de Israel, ou seja, deixa de ser um movimento político e se torna o próprio Estado.
Os estragos causados por essa deformação são enormes, atingem desde a questão do véu islâmico, vai de encontro ao demasiado apoio à visão dos neoconservadores norte-americanos, até à obsessão securitária. Ao mesmo tempo, esses porta-vozes da comunidade judaica-sionista banalizam o antissemitismo e difamam centenas de judeus que rejeitam publicamente todas essas manipulações. De fato, quando a acusação de antissemitismo é sistematicamente utilizada para defender Israel à qualquer preço, inviabiliza, da mesma forma para que a eficácia dessas acusações recaiam de fato, naqueles que depredam as sinagogas ao redor do mundo, em conformidade à bandeira neonazista.
O sentimento antissemita, para esses autores, podem ser encontrado em todos os lados, mas principalmente na esquerda politica, dentro das comunidades árabes e islâmicas e, entre os judeus de esquerda. Esse inconveniente, acarreta no atual processo de transformação de toda a comunidade árabe, em um grande alvo de perseguições, ocupado no passado pela figura do judeu, de acordo com as palavras de Edward Said, em sua obra Orientalismo – O Oriente como uma invenção do Ocidente.
O antigo enredo da conspiração, a qual revelava a figura do judeu como o promotor de um empreendimento mundial desapareceu. Em seu lugar, emerge a representação simétrica com relação aos árabes e muçulmanos, na imagem dos grandes detentores das riquezas petrolíferas e do terrorismo suicida internacional.
Essa mesma imagem também foi explorada pelo comediante brasileiro, Marcelo Adnet, em um dos programas Comédia MTV, a qual de maneira irresponsável apresentou em formato de humor o que seria uma seleção dos melhores vídeo clips no Mundo Árabe e Islâmico. Adnet personifica um apresentador afegão, em um cenário deserto, com cavernas e vestido com uma roupa típica dos talebans e explora demasiadamente muitos esteriótipos árabes e islâmicos.
Um dos esteriótipos mais marcantes é a questão do ódio e da intolerância irracional nata por parte de todos os muçulmanos ao ocidente, simbolizada na referência irônica do apresentador ao sequestro dos jornalistas europeus no Afeganistão e no obsessivo projeto de destruição da cultura ocidental e norte-americana no mundo. Sobre esse aspecto, o muçulmano, representado por Adnet é apresentado como um sujeito ignorante, preconceituoso e violento, em um dos vídeos clipes apresentados, a sua esposa (encenada por um ator) usa uma burca preta, semelhante às utilizadas pelas mulheres na Arábia Saudita.
A violência contra a mulher muçulmana é apresentada de forma espontânea e generalizada, sobretudo quando o marido dela (no vídeo clipe) a ameaça com violência, diante da possibilidade de adultério. No mesmo instante em que a música estava sendo cantada pelo humorista, outro ator da mesma emissora realiza uma coreografia ao fundo, com um figurino jihadista e muitos explosivos ao redor do seu corpo, numa imagem que remete ao incurável fanatismo islâmico.
Além da prática de islamofobia (termo que denota aversão ao islã), o mesmo programa, de maneira debochada, apresentou em um dos “vídeos clipes premiados”, um palestino na Cisjordânia ocupada, representado por um funkeiro armado com duas metralhadoras, cuja a música retrata a banalização da violência contra os seus inimigos. A distorção das imagens utilizadas pelo programa juvenil e pelo humorista retrata o palestino de modo a ressaltar uma série de esteriótipos que vão muito além dos preceitos islamofóbicos. O palestino, o “Mc Mata” canta o funk É nois que tá, sob um refrão “Cisjordânia é nóis que tá”.
Ainda diante das graves conseqüências do emprego à islamofobia, muito recentemente, o embaixador norte-americano na Líbia, J. Christopher Stevens e três colegas de trabalho foram mortos na cidade de Benghazi, em um ataque de manifestantes salafistas (em sua maioria) ao escritório do consulado americano na cidade. O trágico ataque teria sido motivado por uma grande revolta gerada pelas informações contidas no filme Innocence of Muslims, produzido pelo americano-israelense Sam Bacile, as quais retratam o profeta Mohammed de modo caricato.
O auge da revolta no entanto, ocorreu após uma entrevista do diretor do filme ao Wall Street Journal, a qual declarou publicamente “que o Islã é um câncer”. O que de fato culminou para que as revoltas se espalhassem para outros países de maioria muçulmana, como o Egito. No Cairo, enquanto cerca de milhares de manifestantes protestavam em frente à embaixada dos Estados Unidos, alguns representantes da Fraternidade Muçulmana muito oportunamente puderam convocar novos protestos pacíficos contra o filme para a sexta-feira seguinte (dia sagrado na religião muçulmana).
A repercussão negativa da produção cinematográfica, ecoou, da mesma forma, dentro do grupo Taliban (no Afeganistão). Na quarta-feira (dia 12 de setembro), líderes talibans pediram à comunidade afegã para que se preparem para uma “guerra” contra os americanos e apelaram para que insurgentes “se vinguem” nos soldados norte-americanos ainda presentes no país.
Por esse lado, e afim de evitar tanta violência decorrente de distorções conceituais, todas as questões relativas ao sionismo, antissionismo, antissemitismo e islamofobia, deveriam ser formuladas no espaço público, de modo eqüitativo, de preferência dentro das Universidades, de acordo com o comprometimento dessas instituições na promoção ao debate político e acadêmico. Porém, muito diferentemente do papel que deveriam exercer, as Universidades, cada vez mais, têm sido palco de uma campanha de censura de informações e de difamação, capazes de distorcer qualquer trabalho artístico e acadêmico pró-palestino sob a acusação de práticas de antissemitismo.
Um dos principais alvos de difamação no Brasil, o cartunista Carlos Latuff, em algumas ocasiões teve o seu nome registrado em citações jornalistas e acadêmicas como um exemplo de artista antissemita, desde que começou a posicionar-se politicamente por meio de suas criações sobre a questão palestina, ao transmitir em seus desenhos à realidade dos territórios ocupados, a discriminação, a política de expansão dos assentamentos, o muro e muitos outros casos de desrespeito aos direitos humanos. Toda a campanha de difamação pessoal, atingiu o seu auge, sobretudo no momento em que participou de um concurso de cartoons sobre o Holocausto em Teerã (muito condenado internacionalmente). Cabe ressaltar que o evento iraniano foi criado em resposta à divulgação de alguns cartoons dinamarqueses sobre a imagem do profeta Mohammed, líder religioso da religião muçulmana.
Nessa altura, ao classificar-se em segundo lugar com um trabalho que retratava um palestino chorando diante de um muro erguido pelo governo de Israel, toda a polêmica do desenho, girou em torno do detalhe da roupa do palestino: um uniforme de prisioneiros dos campos de concentração nazista. A inevitável comparação do nazismo à política israelense nos territórios ocupados palestinos, rotulou à partir daí, todos os trabalhos do cartunista como sendo de natureza tendenciosa, antissemita e não comprometida com a promoção da paz.
Por outro lado, são ainda poucos o que conseguem de fato diferenciar os trabalhos preconceituosos dos trabalhos sérios, comprometidos com questões políticas e sociais relevantes. Ao tratarmos sobre os nomes citados, Marcelo Adnet, Sam Bacile e Carlos Latuff respectivamente, é bem possível constatar o uso apelativo dos dois primeiros aos estereótipos de modo à prejudicar a imagem da comunidade árabe, da mulher muçulmana, do anseios do povo palestino e da religião. Muito diferente dos desenhos de Carlos Latuff que, muito embora retratem de maneira crítica alguns integrantes do governo de Israel e de seu Exército, nunca o fazem de forma pejorativa e estereotipada, como eram feitos no passado, pelos publicitários do Reich alemão. Foi durante essa época que os judeus, de uma maneira geral, costumavam serem retratados na imagem do banqueiro explorador e mercenário, na figura do comunista perigoso e violento e suas feições geralmente ressaltavam o nariz e uma cartola mais extravagante do que o normal.
Aqui no Brasil, mesmo diante da gravidade das imagens retratadas nos programas humorísticos apresentados por Marcelo Adnet transmitido pelo canal MTV, o seu nome nunca esteve envolvido em quaisquer acusações de prática de discriminação de teor islamofóbico, qualificado como uma forma de racismo, de acordo com as palavras do secretario das Nações Unidos, Ban Ki-Moon, durante discurso proferido em uma Conferência Internacional contra o Racismo, em Genebra (Suiça). Muito diferente, dos prestigiados trabalhos do Latuff, que frequentemente são alvos de acusações por práticas de antissemitismo, sem qualquer tipo de critério.
A manipulação do conceito de antissemitismo comporta, nesse sentido, muitas armadilhas intelectuais e morais. Criticar Israel não significa negar o direito ao Estado, o direito à crítica é vital para todas as sociedades democráticas e, as sociedades que protegem esse direito têm mais chances de sobreviver do que as que negam.
(*) Integrante do Grupo de Trabalho sobre o Oriente Médio e o Mundo Muçulmano do Laboratório de Estudos sobre a Ásia da Universidade de São Paulo (LEA-USP).


.jpg)